Com diversos momentos de polêmica, evento de lançamento de livro contou com instigantes contribuições de Alberto Acosta, Camila Moreno, Sandra Rátiva, Paulo Arantes e Valter Pomar e discutiu os impasses da transformação social no século XXI
Por Júlio Delmanto, Fundação Rosa Luxemburgo
Após debates de lançamento em Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Cidade do México, La Paz, Quito e Rio de Janeiro, também em São Paulo foi realizada discussão pública a partir do livro “Alternativas ao capitalismo/colonialismo do século XXI”, produzido pelo Grupo de Trabalho Permanente de Alternativas ao Desenvolvimento, impulsionado pelo escritório equatoriano da Fundação Rosa Luxemburgo. O evento contou com exposições de três dos autores, o equatoriano Alberto Acosta, a gaúcha Camila Moreno e a colombiana Sandra Rátiva, além de comentários do filósofo Paulo Arantes e de Valter Pomar, do Foro de São Paulo.
Iniciado logo após falas de apresentação de Gerhard Dilger, diretor do escritório da Fundação Rosa Luxemburgo para o Conesul, e de Joaquim Soriano, da diretoria da Fundação Perseu Abramo, o debate foi bastante rico tanto pelas intervenções da mesa quanto pelas contribuições da plateia, e abordou distintos aspectos da discussão sobre alternativas ao capitalismo e de crítica ao modelo de desenvolvimento atualmente em curso na América Latina, num contexto que é classificado pela pesquisadora argentina Maristella Swampa como “consenso das commodities”.
O primeiro dos componentes da mesa a falar foi o economista Alberto Acosta, ex- Ministro de Minas e Energia do Equador durante o primeiro mandato de Rafael Correa, com quem rompeu posteriormente. Acosta relatou que este livro é resultado “de um processo de conformação de um grupo de trabalho que analisa a realidade de nossos países em uma conjuntura determinada. Não teria sido possível analisar esses temas em uma época neoliberal, estamos em outra face do processo de luta política e social”. Este grupo de trabalho inclui não só acadêmicos e pessoas vinculadas a universidades, mas também setores da sociedade civil, “desde onde se resiste aos resquícios coloniais que ainda existem em nossos países e de onde se propõem respostas concretas aos problemas que estamos atravessando”.
O ponto de partida básico desse trabalho foi um questionamento da ideia de desenvolvimento, explicou o equatoriano. “Há décadas o mundo persegue um fantasma que não consegue agarrar, e esse desenvolvimento resulta perverso, já que inclusive os países desenvolvidos estariam mal desenvolvidos. Estamos em um sistema capitalista não está gerando as condições para resolver os problemas sociais e econômicos ou para ter uma relação harmoniosa com a natureza”, prosseguiu, destacando que o momento natural seria, portanto, de discussão de alternativas ao desenvolvimento.
“É necessário transitar por um caminho pós-neoliberal, mas isso não é um sinônimo de pós-capitalismo, a construção de algo diferente tem que ser feita superando o capitalismo, não no discurso mas na prática. Outro ponto fundamental é que nesse processo questionamos muito a lógica da acumulação extrativista, aquele modelo que temos há mais de 500 anos, de ser economias primário-exportadoras. Isso segue caracterizando nossas economias, mesmo entre os governos que caracterizamos como progressistas”, continuou Acosta.
Segundo o ex-presidente da Assembleia Constituinte equatoriana, muitos dos países da América Latina, progressistas ou neoliberais, “seguem fazendo o jogo da velha lógica de acumulação, seguimos fornecendo matérias-primas para os países ricos. É necessário pensar em alternativas, e também em transições, já que não poderemos sair do extrativismo do dia para a noite. Quando falamos então de pós extrativismo estamos falando de pós-desenvolvimento e de pós-capitalismo, e essas são as tarefas que temos hoje”, defendeu, antes de concluir ressaltando que a discussão sobre estes temas não é, de nenhuma maneira, “fazer o jogo da direita, ao contrário, fechar os espaços de discussão, crítica e autocrítica é que é fazer o jogo da direita”.
Patriarcado e economia verde
Em seguida a palavra passou para Sandra Rátiva, que destacou três pontos de discussão que lhe parecem interessantes no livro. O primeiro deles seria o destaque, dentro do debate de alternativas ao capitalismo, que precisa ser dado à crítica do patriarcado, “que está atado fortemente ao capitalismo e ao modelo extrativo. É preciso que analisemos os impactos diferenciados que este modelo tem sobre as mulheres e também o papel delas dentro das lutas e das reivindicações sociais”.
O segundo ponto destacado diz respeito às cidades: “O que acontece com elas? O que acontece com essa tensão entre campo e cidade e como pensar transições, construir comunidades e novos marcos?”, questionou Rátiva, para quem este é um ponto central – “Aqui no Brasil acabamos de ver um forte elemento para esta reflexão com as manifestações recentes”. Por fim, destacou e comentou a tensão entre os direitos trabalhistas e os direitos da natureza, lembrando da necessidade de se transitar por um caminho que conecte as demandas trabalhistas com outros movimentos sociais.
Por fim, Rátiva concluiu defendendo um outro papel do Estado: “Necessitamos que o Estado recupere suas funções sociais, ele não pode ser mais apenas quem imputa a justiça, sob os interesses do capital transnacional, e quem promove a repressão sobre os movimentos e organizações. Temos que primar pela função social do Estado e que ele se constitua sob uma lógica de autonomia territorial e de diálogo com os diferentes setores da sociedade civil”.
Na sequência, foi a vez de Camila Moreno, autora de artigo que problematiza a “economia verde”, que indicou como um dos focos de análise primordiais do livro o entendimento da atual configuração do e “de que forma podemos começar a incorporar outras variáveis que não estão nos referenciais tradicionais da teoria de esquerda”. “Em meu artigo busco desenvolver a discussão sobre o papel central que desempenha o tema clima na agenda internacional dos últimos anos”, continuou, explicando que nos últimos anos esta tem sido uma de “carreira meteórica”, que foi se consolidando nas narrativas e discursos oficiais.
“Há uma instrumentalização da crise climática. Não há que negar a mudança climática, mas há um hiperreducionismo de tudo que é ambiental e das múltiplas dimensões da crise ambiental que quer reduzir tudo a uma métrica do carbono. O carbono já é uma commoditie global, tem preço e mercado paralelo e oficial”, exemplificou.

“O desenvolvimento das forças produtivas é condição essencial para a superação do capitalismo”
O microfone seguiu então para as mãos do petista Valter Pomar, responsável pelas falas mais críticas ao livro e aos outros expositores. Para começar, o historiador questionou o uso do termo “colonialismo” no título, já que não seria este o foco da obra, e também a ausência do termo “socialismo”, situação vista por ele como problemática. “Em terceiro lugar”, prosseguiu, “considero o livro muito débil na análise teórica do capitalismo do século XXI. Meu ponto principal de diferença com os textos é que acho o conjunto das análises muito débil e incorreto no que diz respeito aos processos latino-americanos. Eu estou muito acostumado às acusações de que o Brasil é subimperialista, mas nada é poupado no livro: Venezuela, Bolívia, Equador, todo o pacote de governos latino-americanos progressistas é acusado de extrativista, pró-crescimento e pró-desenvolvimento. A postura dos autores é muito dura a esse respeito, é a esquerda da esquerda, está à beira de acusar Morales e Chávez de estarem construindo um novo modelo de dominação burguesa na região”, criticou.
Pomar defendeu a necessidade da crítica aos limites destes governos, mas disse discordar teórica e politicamente em relação à forma como estaria sendo feita. Em relação ao aspecto político, apontou ser preciso “explicar como melhorar a vida do povo sem lançar mão das possibilidades de desenvolvimento herdadas do regime anterior”, e no plano teórico divergiu do livro por este lhe parecer todo baseado “numa tese que a meu ver está errada, a de que devemos construir o pós-desenvolvimento e o pós-crescimento”. “Na minha opinião, a posição de alternativas ao desenvolvimento, e não de desenvolvimento, está incorreta. No mundo em que a gente vive hoje a defesa do crescimento é nossa, esse é o problema. Assim como também a defesa do desenvolvimento é nossa: o debate tem que ser sobre qual desenvolvimento”.
Segundo o historiador e dirigente do PT, “o desenvolvimento das forças produtivas é condição essencial para a superação do capitalismo”, sendo a lógica do não desenvolvimento um caminho de não superação do capital. “Além disso, é impossível constituir uma maioria política anticapitalista sem defender crescimento e desenvolvimento na América Latina, não existe solidariedade social para um discurso desse tipo, e nenhum país governado pela esquerda sobrevive se não construir estruturas potentes de desenvolvimento. A alternativa é o esmagamento”, criticou, complementando de forma polêmica: “É preciso olhar a experiência socialista do século XX: alguns textos do livro mereciam ser confrontados com a experiências chinesa e cambojana, porque há uma mitificação da vida camponesa como modelo e uma discussão sobre a cidade que é igual ao que se dizia na época do Pol Pot”.
Pomar concluiu defendendo uma maior “pluralidade” nos enfoques analíticos, já que “o mundo da esquerda” seria mais amplo do que a polarização que o livro traçaria entre desenvolvimentismo extrativista e adeptos do bom viver. “Eu não me encaixo em nenhum dos lados, tem um pedaço da esquerda brasileira que não se encaixa nisso, e ganharíamos incluindo essas pessoas na discussão sobre a transição, esse é o debate político real”.
“Não há uma molécula de anticapitalismo no Brasil. Eu diria isso até maio”
Se Pomar se mostrou disposto a polemizar, encontrou no filósofo Paulo Eduardo Arantes um adversário à altura do embate de ideias. Arantes se diferenciou das demais intervenções ao se propor a enfocar e enfatizar a especificidade brasileira dentro deste debate: “Vou me ater a uma peculiaridade do livro, a essa anomalia na América Latina chamada Brasil. Não há um capítulo sobre o Brasil nesse livro e há razões históricas e estruturais para isso, já que se trata de um livro que chama-se alternativas ao capitalismo no século XXI”. “Isso acontece”, avançou, “porque o Brasil vai melhor, e não no sentido de PIB pra baixo ou pra cima que isso é bobagem pra alimentar campanha eleitoral e editorial de jornal, isso é uma asserção substantiva. Um capítulo sobre o Brasil seria muito complicado num livro que busca alternativas ao desenvolvimento e ao capitalismo. Não há base social no Brasil contemporâneo para que se possa sequer imaginar uma alternativa ao desenvolvimento capitalista, tudo que se poderia falar sobre isso seria especulação, filosofia da história”, salientou.
Segundo Arantes, isso aconteceria exatamente por esta razão do Brasil estar “indo bem”, o que tornaria reflexões anticapitalistas “artificiais” para o momento, ao contrário do restante da América Latina. “Nós não conhecemos o desastre social, político e econômico que outros países conheceram nas últimas décadas, nos anos 1990 principalmente. Não houve nenhum conflito social em profundidade que provocasse algum projeto político socialmente apoiado, que provocasse pelo menos a imaginação social de se procurar alternativas”, avaliou, destacando que também inexistiria no Brasil uma tradição politicamente ativa ou reativada dos povos originários, que no continente “estão se reorganizando numa espécie de fome de reconquista”. “No Brasil isso desapareceu. Não há nada que nos empurre nessa direção, não temos que prestar contas a ninguém, no máximo do ponto de vista humanitário, de direitos humanos, do ponto de vista do extermínio dos que sobraram. Não há um povo originário no Brasil organizado que derrube presidente, como no Equador”.
Para o filósofo, “o Brasil já é uma excrescência desde a independência, que não foi uma guerra de libertação mas um ajuste dinástico, absolutamente determinado pelo comércio exterior, e desde lá somos uma anomalia nesse continente, sendo atualmente uma sociedade de baixa conflitividade, uma sociedade em última instância pacificada”.
Segundo ele, o neoliberalismo por aqui não teria sido um desastre como em outras partes mas sim um sucesso, tanto que teria continuado até os dias presentes, “foi um ajuste do capitalismo contemporâneo que funcionou e a prova disso é o sucesso que veio depois, que cavalgou e subiu nos ombros desse ajuste “. Isso teria acarretado no surgimento de “uma espécie de ofuscamento social que imaginou que o período neoliberal tivesse sido só uma pausa no nosso caminho do desenvolvimento. Essa aspiração ao desenvolvimento está no DNA da sociedade brasileira, não o desenvolvimento pré 1964, de superação da cultura do subdesenvolvimento, mas no sentido de ‘catch up’, emparelhamento. E isso está sendo realizado, há um consenso em torno disso que faz com que o discurso sobre o neoextrativismo no Brasil esteja deslocado, mesmo que ele exista e seja grave. Aqui há um neoextrativismo muito original, que se apresenta na forma de megaprojetos”, analisou.
A economia brasileira estaria num momento maduro, uma economia industrial plena, e teria agora como foco de acumulação estes focos extrativistas, caracterizados como megaprojetos de aceleração estrutural e tocados por grupos econômicos aliados alavancados pelo Estado. “Desse consenso faz parte a classe trabalhadora brasileira, representada pelas suas centrais sindicais ou presidências, representações políticas. Nós deixamos de ser pobres coitados, deixamos de ser subdesenvolvidos no sentido clássico. Somos uma economia madura, com conflitos específicos e que tem no comando uma parte da antiga classe trabalhadora. Portanto as alternativas a serem pensadas têm que ser a partir desse horizonte, que muda inteiramente a maneira de se pensar política e luta de classes”.
Por fim, a cutucada final: “Seria artificial raciocinar a partir desses pressupostos, não há uma molécula de anticapitalismo no Brasil. Eu diria isso até maio, de maio pra cá eu não sei, vamos ver”.
“Socialismo é progresso”
As colocações, provocações e divergências entre a mesa estimularam a participação do público, que contribuiu com diversas perguntas e opiniões. Houve questionamentos aos comentários de Paulo Arantes sobre os indígenas brasileiros, às colocações pró desenvolvimento de Pomar e também intervenções sobre jornalismo, participação popular nas decisões da política energética ou dos megaprojetos, crise da reestruturação capitalista e relação entre a agenda do bem viver e a esquerda tradicional, além de críticas à militarização da sociedade e a um suposto papel imperialista do Brasil na América Latina e na África.
A palavra voltou então a Pomar, que criticou um suposto déficit teórica da esquerda, que estaria ainda voltada a um capitalismo do século passado, e avaliou a vigência de um momento em que não será mais possível aos governos de esquerda se aproveitarem de uma conjuntura internacional favorável para vender mais e utilizar esses recursos pro processo de acumulação interna. “Esse processo acabou, agora há dois caminhos possíveis: ou uma regressão à direita ou um salto de qualidade no sentido de outro modelo de crescimento. Mas com esse discurso de não crescimento e não desenvolvimento nós não construímos maioria em nenhum país latino-americano. Eu acho que teoricamente o socialismo é desenvolvimento, é progresso, é modernidade. Se é pra abrir mão dessa herança iluminista, não contem comigo”, complementou.
Em seguida Camila Moreno voltou a falar, e discordou de Pomar em relação ao uso do termo colonialismo no título do livro. “Acabo de voltar de um seminário sobre colonialidade do poder, e sobre todo esse referencial do pensamento descolonial que justamente questiona esse mito de que nós partilhamos uma modernidade e um iluminismo, não nada mais colonial em termos de imaginário do que isso. A condição da emergência da modernidade na Europa foi a extração do metal latino-americano”.
Divergiu também das críticas sobre uma possível mistificação da vida no campo ou nos países andinos, defendendo a necessidade de se olhar para países onde ainda há práticas de comunalidade, “onde ainda há populações que não têm instaladas em si o dispositivo da propriedade privada, da lógica individual dos ganhos, de todo esse processo social mais amplo que é a financeirização da vida”.
Na sequência, Sandra Rátiva criticou o que vê como uma polarização existente no interior da esquerda latino-americana, que se dividiria entre defensores do desenvolvimento e do bem viver. Essa divisão a seu ver não seria útil e reproduz uma lógica cristã do bem e do mal: “essa incapacidade real de diálogo para mim é um perigo grande no continente. É preciso olhar com atenção os planos de análise política, em relação ao poder, e também econômicos, que também têm expressões concertas”.
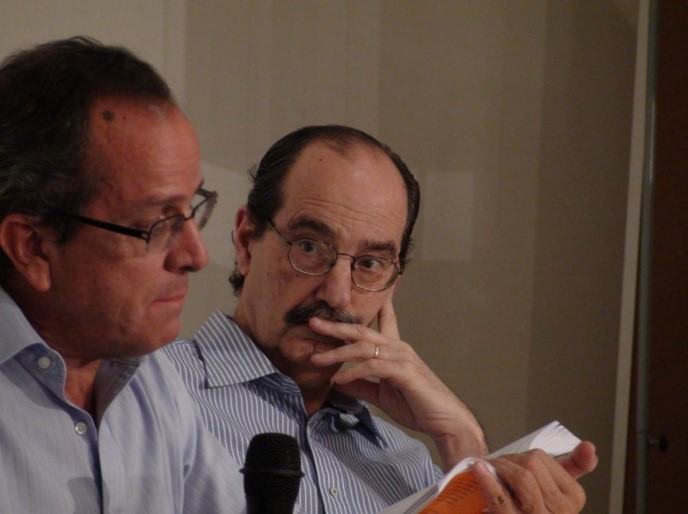
“Verdadeiro projeto político do desenvolvimento é militar”
Já Alberto Acosta disse “não aceitar” a comparação com autoritário governante cambojano Pol Pot: “ Isso é aberrante, o que menos queremos aqui é abrir a porta a processos autoritários, temos que entender que se queremos construir uma sociedade democrática o processo tem que ser democrático”, protestou. Para o equatoriano, há sim que se diferenciar o extrativismo dos chamados governos neoliberais dos governos progressistas, mas não se pode esquecer que se tratam de governos extrativistas, “pela razão que seja”. “Claro que há maiores controles do Estado, é certo que há também maior participação de empresas públicos frente a transnacionais e também há maior investimentos sociais com os produtos dessa renda, isso é preciso destacar, mas o que podemos discutir é se esses países estão caminhando a uma etapa pós extrativista, a deixar de fazer parte da lógica de acumulação do capital transnacional. Eu creio que não”.
Por fim, Arantes respondeu que acompanha e valoriza a resistência dos povos originários brasileiros, que estão mobilizados e estimulam participação, mas lembrou que ela seria “uma mobilização do desespero, de um povo que sabe que vai acabar e que sabe que luta em meio à indiferença geral da sociedade”.
Além disso, analisou a conjuntura presente como uma situação histórica na qual o capitalismo perdeu todo seu potencial emancipatório. “É esse o ponto, uma coisa era ser anticapitalista ou socialista nos séculos XIX ou XX, outra é ser agora, há uma série de questões sobrepostas. Quando você transforma ambientes florestais em ativos financeiros, você não vai fazer reforma agrária, com recurso do pré-sal não haverá reforma agrária. É preciso compreender a engrenagem do funcionamento desse ensandecido capitalismo brasileiro, no qual há amplo apoio popular aos megaprojetos e megaeventos, ao saque das transnacionais brasileiras na América Latina e na África”, prosseguiu.
Sua hipótese é que a militarização atualmente vivida no Brasil tem origens em um projeto esquecido quando se analisa o “famoso meio século de desenvolvimento, de 1930 a 1980, no qual havia muitos projetos em disputa”. “Há um projeto que é o verdadeiro imaginário de projeto político desse desenvolvimento de meio século que agora está sendo retomado, depois de um interregno de ajuste da casa, não mais do que isso: é o projeto militar”.
Iniciado nos anos 1930 de Vargas, este projeto teria se foi aprofundado durante a ditadura, que associou desenvolvimento e segurança, processo que estaria novamente em curso atualmente. “A agenda que surge agora é como nos situamos num contexto de crise desse consenso de commodities, porque a China vai desacelerar, nossa confortável situação de fornecedor da China vai apertar. E qual é o próximo passo? É novamente incrementar esse projeto de poder, desenvolvimento é poder. É ascender, e quem ascende é a favor, procura espaço. É intrinsicamente pró-sistema”, avaliou. “Esse projeto de poder desenvolvimentista é na verdade incorporação no processo de exploração. Essa incorporação faz com que você necessite de segurança, que você precise de um aparato. Não por acaso está havendo remoções forçadas, frente à indiferença da população, que está se lixando pra Pinheirinho, está se lixando pra tudo”.
Para Arantes, “estamos produzindo uma sociedade poderosa, de economia forte e bárbara. Bárbara, conservadora, policial, militarizada e violenta. E com a anuência de uma fração importante, em poder social e poder de fazer governo, que se chama classe trabalhadora”. Em um resposta a sua provocação inicial, disse que é evidente que existem moléculas de anticapitalismo, mas elas não passariam disso, tendo que confrontar uma máquina “dificílima de parar”. “Essas moléculas se chamam ralé, é a ralé que está se manifestando agora de maneira massiva, que incomoda. E nessa ralé tem de tudo: saqueadores, lúmpen, tem gente infiltrada, extrema direita, tem uma nova classe trabalhadora que não conhecemos. Foi assim no século XIX, estava tudo misturado, até que vem as forças da ordem separar quem vai pra cadeia, quem não vai”, concluiu.





